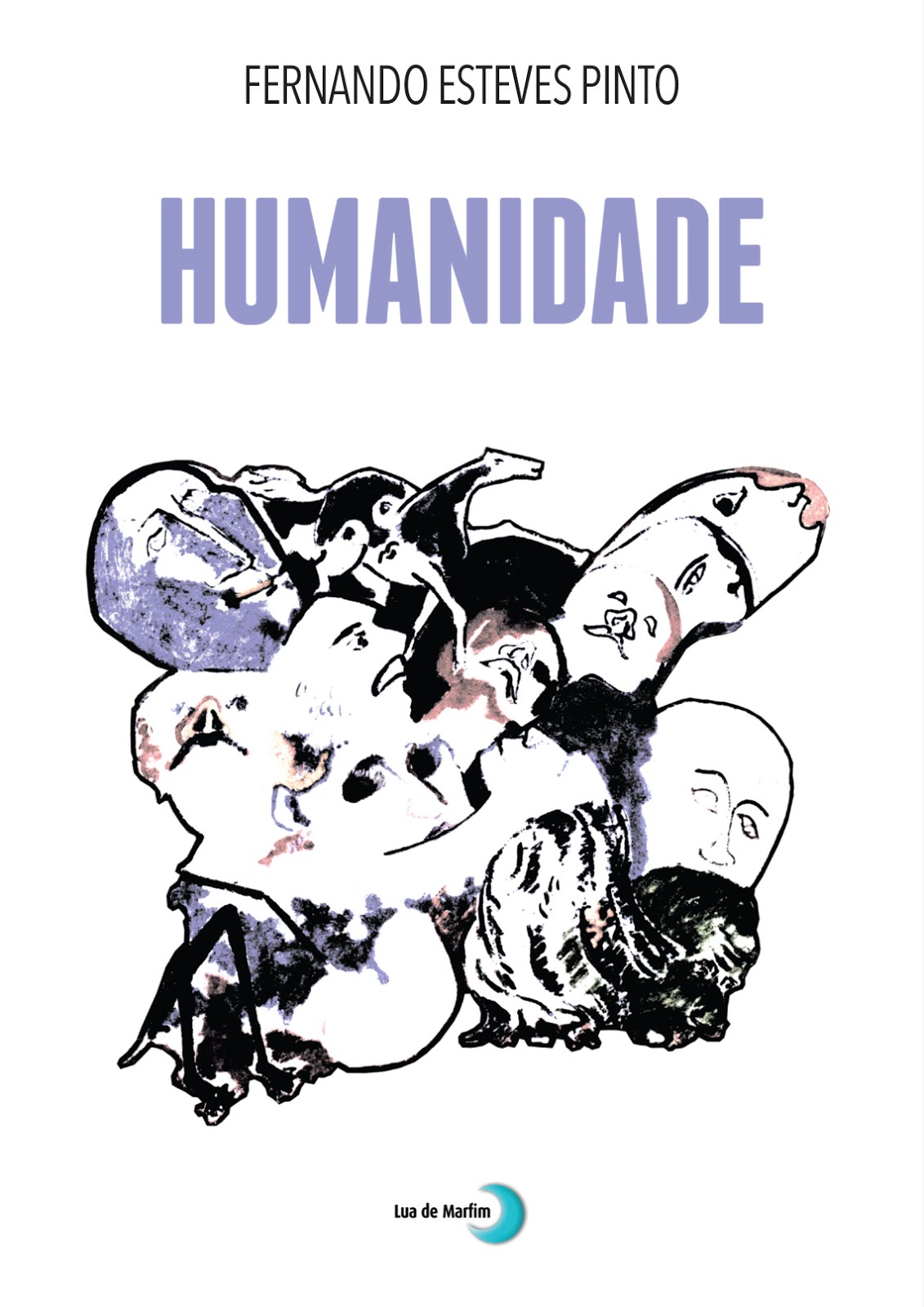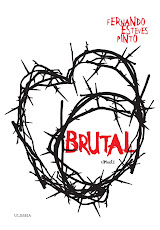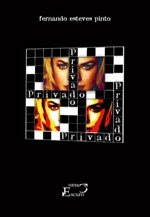1 – O teu processo inicial na escrita foi bastante intenso: inúmeras edições de autor, e um conjunto de textos (75 edições - de 2002 a 2005 - a que deste o nome de Fascículo. Foi uma declaração de amor à literatura?
Não sei se foi uma declaração de amor; diria talvez que foi uma declaração de existência. A edição de autor sempre me pareceu uma forma de divulgação do trabalho tão legítima como outra qualquer, a que recorri com naturalidade; se fosse hoje, talvez tivesse preferido as diversas ferramentas que a internet faculta. Mas o importante era agir, divulgar o trabalho; não ficar de braços cruzados, à espera. Não tanto declarar um amor mas antes declarar uma presença.
2 – É curioso verificar que, sendo tu um jovem autor, tivesses a preocupação de procurar os leitores dos teus livros artesanais, chegando inclusive a enviares algum material para as bibliotecas públicas. Queres recordar esses tempos?
Correspondeu a um período muito interessante mas que, naturalmente, foi ultrapassado. Havia alguma utopia, alguma ingenuidade, uma crença inabalável no valor do meu trabalho mas também na generosidade dos leitores, na possibilidade de conseguir captar a sua atenção. Importante parecia-me desenvolver um esforço de divulgação, de procura de um público, de afirmação do nome; ser activo e diligente, se possível original. Ir à procura de quem se pudesse interessar, leitor a leitor.
3 – Colaboraste no DNJovem (suplemento literário do Diário de Notícias), coordenado pelo Manuel Dias. Como sabes, o DNjovem foi a primeira casa editorial de muitos escritores, hoje bem conhecidos no meio literário português: José Eduardo Agualusa, José Luis Peixoto, Pedro Mexia, etc. até que ponto foi importante a tua passagem pelo suplemento?
Colaborei no DN Jovem com muito gosto, com muito orgulho, mas apenas circunstancialmente, num período inferior a um ano; todos os textos que propus foram publicados mas nunca participei em encontros ou nada disso. E confesso que, na altura, pareceu-me mais estimulante a colaboração que mantive com o DNa, o suplemento editado pelo Pedro Rolo Duarte.
4 – Finalmente foste descoberto pela Deriva, editora à qual ainda hoje estás ligado como autor. Sentiste alguma vez que essa recompensa, justa, te trouxe maior responsabilidade perante quem apostou no teu trabalho e os teus leitores em geral?
Certamente. Encaro a minha actividade enquanto escritor com grande seriedade e sou muito exigente para comigo próprio, muito rigoroso; não vejo isto apenas como uma diversão, um entretenimento.
5 – Os teus livros são lidos maioritariamente por mulheres. É intencional o facto de a tua escrita se dirigir ao universo feminino? Como sabes, as mulheres lêem mais que os homens.
Serão? Não faço ideia. A minha escrita não se dirige a ninguém em específico e muito menos a um grupo tão genérico, tão heterogéneo. Penso até que a crueza das estórias, a sua destituição de artifícios, de descrições, lhe confere uma maior abrangência, de modo que se crie algum grau de empatia com leitores muito díspares. Parece-me perigoso e restritivo, artificial, escrever para um público definido e demarcado, para alguém em específico.
6 – Verifico que os espaços físicos das tuas histórias têm algo de claustrofóbico. A acrescentar a isso, cada conto tem uma ou duas personagens. É economia estrutural ou, noutra perspectiva, por sentires que mais de duas personagens na mesma história é para ti uma multidão? Logo, com um nível de dificuldade que te inibe de gerir pessoas e actos no mesmo espaço.
Interessa-me manter as narrativas simples, sem artifícios nem grandes encenações, sem malabarismos. É assim que encaro as minhas estórias: despojadas e cruas, directas. Talvez um pouco corrosivas, intimidatórias até. Sem ruído nem cenário, sem acessórios. É uma escrita que procura fixar momentos, reter-se em instantes, em fragmentos de vidas. Não há passado nem futuro, não há verdadeiros contextos: apenas um retrato fugaz e efémero, frio. Como uma fotografia; ou melhor: uma radiografia.
7 – Após três livros de histórias breves (contos), nunca te sentiste tentado a escrever um romance? O que te falta para experimentares esse género literário?
Acabei de entregar uma peça de teatro original que irá ser encenada em breve; se me dissessem há um ano que iria escrever uma peça de raiz, duvidaria muito. Fui também convidado a integrar um projecto musical, para o qual escrevo letras; se me tivessem dito um dia antes do convite que iria escrever letras para canções, ter-me-ia rido. As coisas acontecem com naturalidade, correspondendo a desafios, a vontades inconscientes, a estados de espírito momentâneos. Haverá um romance quando tiver que haver; amanhã, quem sabe; ou nunca. Fiz umas experiências em tempos mas não foram esforços honestos, na sua génese estavam motivações desadequadas; foi um erro, que tentarei não repetir. E de qualquer modo, irrita-me um pouco a insistência na necessidade de haver um romance; como se escrever contos fosse um esforço menor e despiciendo, uma simples preparação para algo maior e não um trabalho meritório em si mesmo, auto-suficiente. Pergunto-me, por exemplo, se alguém andará atrás dos poetas a questioná-los quando escreverão livros de ficção científica; ou se serão apenas os contistas que são condenados a uma espécie de anátema literário por ainda não terem escrito um romance.
8 – Na temática dos teus livros há um certo desencanto conjugal e uma esperança indecisa que dominam negativamente as personagens. É o lado menos iluminado da vida que te inspira?
Pois, o que me inspira… Seria mais fácil (mas também muito desinteressante) se se conseguisse definir de modo científico onde reside a inspiração, o que despoleta o processo criativo; e, depois, bastaria criar automatismos, desenvolver rotinas: e a obra nasceria, enfadonha e desnecessária. Mas não funciona assim. A inspiração, no meu caso, pode nascer de dezenas de modos imprevisíveis: uma frase num livro, a violência do gesto num estranho, a expressão de um rosto, o som forçado de um riso na televisão, uma ideia despropositada ou a reminiscência de um sonho, um comportamento rotineiro e inconsciente de alguém; qualquer coisa fugaz e abrupta, irrepetível. E depois há vontade de interrogar, de especular, de procurar descobrir e saber e perceber.
9 – Geralmente, um escritor tende a ser autobiográfico na fase inicial da sua carreira literária. Depois há os que abandonam essa particularidade, completamente, e os que escrevem sobre os outros ligando-os discretamente à sua própria biografia. Quanto das tuas histórias é autobiográfico?
Esse é o segredo, não é? As minhas estórias são inquestionavelmente ficções; mas em cada uma delas há sempre um pedaço de verdade, de autobiografia, que varia muito. Não me compete nem me interessa revelar qual a dimensão desse pedaço, em cada estória; caberá ao leitor adivinhá-lo, caso lhe apeteça.
10 – Numa das nossas conversas disseste-me que receavas ter esgotado a temática dos teus livros. Já tens alternativas? Que Paulo Kellerman vem a seguir?
Não será tanto uma questão de esgotar temáticas mas mais uma questão de não as repetir obsessivamente. É terrível que um escritor se deixe cair na redundância, na inconsequência, que seja incapaz de se surpreender a si próprio. Tento permanecer vigilante e auto-crítico, ser implacável para comigo mesmo; reflectir sobre o trabalho e colocá-lo permanentemente em questão; é portanto inevitável que surjam dúvidas e hesitações. O fundamental é que persista a vontade (a necessidade) de procurar e perceber, de ir mais além e mais fundo, de aprender e questionar, de desafiar.
Entrevista publicada no suplemento S do jornal Postal do Algarve
quarta-feira, 28 de outubro de 2009
Paulo Kellerman
terça-feira, 20 de outubro de 2009
terça-feira, 13 de outubro de 2009
Os Nossos Dias
Apresentação do livro "Os Nossos Dias" de Miguel Godinho, no Pátio de Letras. Divulgação AQUI
quarta-feira, 7 de outubro de 2009
Rui Costa
1 – Depois de “A Nuvem Prateada das Pessoas Graves” – 2005, passando por “O Pequeno-almoço de Carla Bruni (2008), e agora o mais recente livro de poesia “ as Limitações do Amor são Infinitas”, consideras que houve uma evolução ao nível da temática e poética na tua escrita?
R: Houve uma evolução na forma e nos temas. Interessa-me pôr as coisas fora do lugar. Tratar a metáfora de uma forma metabólica, como se fosse um bicho, e as coisas mais concretas (como os limões e as pataniscas de bacalhau) como se fossem carburadores universais.
2 – Não se tem vislumbrado a presença da crítica literária em relação ao teu trabalho. Crês que os críticos existem?
R: O livro “A Nuvem Prateada das Pessoas Graves” mereceu referências ou artigos de Fernando Guimarães (no “Jornal de Letras”), da Vera Vouga (na “Revista da Faculdade de Letras do Porto”), do Luis Carmelo (no livro “A novíssima poesia portuguesa e a experiência estética contemporânea”), do Francisco Saraiva Fino (na revista brasileira online Germina), do Henrique Fialho (no extinto blog “Insónia”), e mais uma ou outra. A edição está esgotada ou perto disso, tendo em conta os direitos de autor que já me foram pagos.
Já o meu romance “A Resistência dos Materiais” não mereceu nenhuma crítica impressa. Talvez os críticos não o tenham lido, ou então não gostaram. É um romance bastante exigente. Quando o concluí tinha a perfeita consciência de não se tratar de um romance comercial. Era o que eu queria escrever naquela altura, sei que nunca mais conseguirei escrever outro livro sequer parecido.
Quanto a “O pequeno-almoço de Carla Bruni”, gostei bastante da apresentação que a Carmen Yañez fez dele no Salón del Libro Iberoamericano de Gijón.
Gostava que o livro de poesia “As Limitações do Amor são Infinitas” tivesse maior visibilidade, seria uma boa recompensa para a pequena editora (“A sombra do Amor”) que decidiu investir algum dinheiro nele.
3 – Acreditas que a poesia convencional, sem grandes rasgos de novidade formal, estética, e cuja temática se inclina para o espírito geral dos leitores, não os obrigando a questionar muito a interioridade que determinada linguagem evoca, ainda é tradição e, por isso mesmo, atrai mais leitores e estabelece um pacto de comunicação com a crítica?
R: Não tenho nada contra quem escreve para ganhar dinheiro com prémios literários. Até agora não o fiz, mas não me repugnaria fazê-lo, por brincadeira também. No entanto, não assinaria com o meu nome um livro de que não gostasse.
Há vários prémios literários que são fracos, porque os membros dos júris são maus escritores ou maus leitores. Nestes casos costumam escolher livros sem nenhum tipo de rasgo, que eles chamam de “coerentes”, e de que louvam “a afinação da voz poética”.
Eu não tenho jeito para vender a minha banha da cobra. Costumo dizer o que me apetece, e não ando a tentar ser amigo de toda a gente, seja crítico ou editor. Sei que assim é mais difícil, mas a minha única alternativa é tentar ser ainda melhor, e disciplinar um pouco mais a preguiça.
4 – De que modo partes para o poema, isto é: levas contigo uma experiência, ou uma série de ideias e com esses instrumentos trabalhas a experiência que o poema pede no acto de escrever?
R: Parto sempre aos esses, para despistar os polícias.
O poema “A nuvem prateada das pessoas graves” surgiu a partir de um senhor de Campo de Ourique que era muito tímido e um dia começou a falar comigo. O “poema inútil com montanha” surgiu depois de um mergulho no Douro, em frente a uma espécie de montanha verde. O poema “O pão” é sobre uma pessoa que conheci em Inglaterra. O poema “Eternidade” não sei como surgiu, talvez tenha origem numa vontade de ritmo, tal como o poema “Music Box”. E por aí fora, só consigo falar um a um.
5 – Tendo em conta tudo o que te rodeia e te toca como pessoa em relação com o outro, que circunstâncias te vocacionam para a experiência do acto poético?
R: O que me motiva é a fome, mas não sei de quê. Ando sempre com fome. Como muito, bebo muito, vicio-me com facilidade. Há uns anos olhava para as pessoas de uma maneira sôfrega, mas isso está a mudar. A maior parte das pessoas da minha idade desiludem-me: são muito carreiristas, só pensam na vidinha e não dão ponto sem nó.
Acho o universo giro, sobretudo com umas boas sardinhas e um vinho verde muito frio à frente. Claro que é objectivamente injusto, de uma forma que chega a meter nojo - Deus é um bocado inapto, porque foi feito à imagem e semelhança do homem.
Também gosto de mulheres. Têm problemas no motor de arranque mas são muito mais surpreendentes do que os homens. Sempre me dei muito mais com mulheres, como namoradas ou amigas. Os homens são um bocado chatos, sempre com aquela preocupação de dizer coisas engraçadas.
Mudo muito, ainda não me conheço bem. Já fui advogado, sentia-me humilhado com a vida que tinha. Com 31 anos decidi mudar completamente de vida. Sou livre, tento, não deixo que me façam a cabeça.
6 – Recentemente falaste-me num processo que consistia em o autor auto-falsificar-se como forma de se distanciar do que antes tinha escrito e assim conseguir mover-se noutro espaço poético de comunicação, recorrendo a uma linguagem exclusiva para esse fim. Queres comentar?
R: Podes tentar escrever um romance de aeroporto, por exemplo, como exercício criativo. Experimentar relações causa-efeito, tornares-te um manipulador “estratégico” ou mesmo idiota. Isto para mim pode ser interessante, porque eu desvalorizo completamente o “estilo”. Em vez de um estilo, identificável até pelo leitor distraído, preferia pôr em prática mil estilos, um milhão. Ainda não tornei a minha personalidade flexível o suficiente para fazer isto. Sou bastante orgulhoso, e isso dificulta o esquecimento do eu necessário ao desapego dos nossos habitozinhos.
7 – Não será o poeta uma cópia de outros poetas?
R: Há poetas que nos marcam demasiado, em certos períodos. É preciso matá-los. As falsificações são coisas boas, as cópias não. São coisas diferentes: o falsificador engana duplamente, deixa sempre uma marquinha sua para confundir o expert. O falsificador podia ser o melhor violinista do mundo, mas contenta-se apenas com a ideia.
8 – Julgo saber que procuras na tua poesia o caos na perfeição. A ser verdade, concordas que a linguagem é um espelho que deforma e evolui para uma expressão de sentido que não está ao alcance de todos os sujeitos comunicativos do universo?
R: A poesia existe nos limites da linguagem, tal como a filosofia. Já sabemos que por cá não podem andar todos no limite ao mesmo tempo - há regras genéticas no universo que garantem uma estabilidade relativa.
Há coisas que não costumo conseguir comunicar com as pessoas. Por exemplo: há tempos soube que as vacas são responsáveis por 10% da poluição, aquela lixada que dá cabo da camada de ozono. Senti-me extremamente solidário com elas, porque percebi que a imagem que as pessoas têm delas vai mudar, por uma razão que lhes escapa completamente. Nem sequer envelheceram, ou perderam o cabelo, ou apanharam SIDA. São exactamente as mesmas vacas, e agora nunca mais vão ser as mesmas.
Entrevista publicada no suplemento S do jornal Postal do Algarve
Subscrever:
Mensagens (Atom)